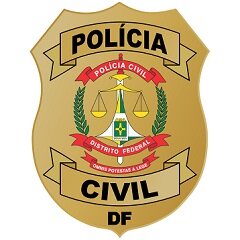Enunciados de questões e informações de concursos
#246637 FUNIVERSA - 2009 - Agente de Polícia (PC DF)
Texto I, para responder à questão.
Razão e fé: as limitações na percepção social da ciência.
Ao mesmo tempo, ressurge a oposição razão e fé, que parecia remota. O país mais desenvolvido do mundo, aquele em que a ciência e a tecnologia mais contribuem para gerar riqueza, é também — entre as poucas dezenas de nações que se situam no pelotão de frente da economia e do conhecimento — aquele em que a maior parte da população acredita exatamente naquilo que não dispõe de base científica alguma. Em nenhum país, o criacionismo é tão forte quanto nos Estados Unidos. No entanto, inexiste qualquer fundamento científico para ele. Temos, assim, ali onde a interação entre o conhecimento científico e a economia constrói a massa de sucesso mais forte da história, uma profunda descrença, ou ignorância, da população a respeito daquilo que constitui a base mesma de seu êxito — ou a base mesma de sua prática.
Faz-se nos Estados Unidos o maior volume de ciência do mundo. O trabalho, nos Estados Unidos, é — em termos absolutos — incomparavelmente mais marcado pelo conhecimento científico do que em qualquer outro país do mundo, e, em termos relativos, dividido pela população, essa sua qualificação superior também ocupa posição de destaque. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a agenda pública comporta uma adesão a superstições, a crenças que a ciência moderna desmontou. Ou seja, eles são o país que melhor mostra um duplo papel da ciência, a exigir um balanço sério e medidas audazes: ela muitas vezes aprimora nosso fazer, mas é impotente para melhorar o nosso agir. A ciência é incorporada, como tecnologia e mesmo como inovação, nas fábricas, nas plantações, nos serviços, mas a teoria que nela está, a semente de inquietação e de inteligência que nela pulsa, não chega à consciência dos milhões e talvez bilhões de pessoas que dela fazem uso. Usa-se a ciência, aprende-se com os resultados da ciência, mas o espírito científico — ou os inúmeros e conflitantes espíritos científicos — se defrontam com mentes impermeáveis a seu trabalho de erosão de mitos e de construção de um mundo diferente.
É preciso explorar um pouco a diferença, que vem dos filósofos gregos mas que foi bem rememorada por Hannah Arendt, entre fazer e agir. A fabricação é o modo pelo qual os modernos concebem o mundo da prática. Esta perde uma dimensão que era forte entre os antigos, à qual chamaremos aqui agir: o mundo humano é o da práxis. Nele se praticam atos que têm o homem como autor e como destinatário, como sujeito e como objeto. Por isso mesmo, o homem nunca é puro sujeito nem mero objeto, quando lida com seu próximo: ele tem, neste último, alguém que lhe pode retrucar, que pode protestar contra o que ele diz ou faz. No entanto, o segredo da modernidade consistiu em uma mudança dessa relação. Dizendo de outro modo, a Idade Média cede lugar à Renascença quando a oposição entre vita activa e vita contemplativa, entre negotium e otium é substituída por outros papéis. Com efeito, os humanistas discutem se é preferível a vida contemplativa do sábio ou do cientista, que prefere um otium (geralmente cum dignitate) que lhe permita almejar a paz interna e a verdade do mundo exterior, ou a vida ativa de quem se debruça sobre os negócios da cidade e contribui para construir uma sociedade melhor.
Exemplar desse debate é a primeira parte da Utopia, de Thomas Morus, como se sabe escrita depois da segunda parte. Nesta última, expõe-se como seria a ilha de Utopia, o primeiro regime “comunista” do mundo moderno. Na primeira parte, porém, redigida um ano após a segunda, dá-se um contexto para aquela exposição. Aparentemente, o contexto fica aquém do texto, a moldura é menos que a pintura. Quando se fala da Utopia, costuma-se citar, da primeira parte, a passagem terrível em que, criticando a apropriação privada e desigual das antigas terras comunais para a pastagem de carneiros, afirma-se que estes últimos, de animais inocentes, se tornaram devoradores de homens — a primeira crítica filosófica às enclosures, que mudaram a paisagem inglesa e as relações sociais nos séculos que precedem a Renascença e que a ela sucedem; e também, da mesma parte, a crítica generalizada ao dinheiro e a seu poder; enquanto, da segunda parte, se reflete sobre a proposta de uma sociedade utópica (de Utopia, literalmente “nenhum lugar”), banhada por um rio sem água (Anidro é seu nome) e relatada pelo português Rafael Hitlodeu (“autor de disparates”), mas talvez, dizem alguns, eutópica (“lugar belo”). Mas o que nos interessa aqui é outro ponto.
O que se debate na primeira parte é se o intelectual deve participar da coisa pública, ajudando a melhorar a vida dos outros, ou se esse empenho seria inútil e o que melhor lhe convém é a contemplação: não mais a das verdades celestiais, mas a da tolice humana. Desse rico assunto, o que aqui nos interessa é a substituição moderna da vida contemplativa e do otium por outro tipo de vida. Mas essa não é a reedição da vida ativa ou do negotium, embora pareça com frequência constituir sua caricatura. Pois ao negotium, que era o cuidado com a coisa pública, sucede o negócio, que é o business, o desinteresse pela res publica e a animação com a vida privada do empreendedor ou empresário. Daí, também, que a vida ativa se reduza, na verdade, a um fazer interminável. Para o homem do otium, do lazer inteligente, a práxis já era algo sem muita condição de se realizar; mas, em seu lugar, o que vem agora é um fazer, um fabricar, um produzir. A produção típica do otium era uma autoprodução. Consistia em os humanos se construírem pela reflexão e, eventualmente, pelo diálogo. O mesmo valia em certa medida para o negotium: este consistia em os humanos se construírem pela práxis (em) comum. Mas a produção típica do business é uma produção externa, em que, em vez de cada um construir sua humanidade laboriosamente, ou de em suas relações ela se constituir, o que se faz e fabrica são objetos externos, nos quais se projeta uma caricatura do fazer humano.
[...]
Em que medida o conhecimento científico aprimora o sentido ético das pessoas, os valores que elas assumem? Sem dúvida, podemos dizer que o domínio da razão e o da fé são distintos; que um cientista racionalíssimo em seu laboratório pode, perfeitamente, orar e adorar a Deus; mas não é disso que se trata. O cientista racional, se não for esquizofrênico, considerará em sua atividade científica alguns valores essenciais que se ligam a sua religião — buscará ser bom, compassivo, seja o que for. Da mesma forma, o religioso culto, ainda que aceite que em sua religião — como em qualquer outra — há algo incompreensível, levará em conta em sua ação o que aprendeu com a ciência e com os avanços de nosso conhecimento. O problema é que esse diálogo, que parece travar-se entre os cultos, não afeta ou afeta pouco as massas sociais. Estas se beneficiam dos ganhos científicos no plano do fazer, mas ignoram-nos quase por completo no plano do agir.
Renato Janine Ribeiro. Internet: <http://www.cres2008.org/upload/documentos Publicos/tendencia/Tema0 /Renato%20Janine%20Ribeiro.doc> (com adaptações). Acesso em 20/1/2009.
Cada uma das alternativas abaixo apresenta um fragmento do texto I seguido por uma afirmativa relacionada a classificação sintática e(ou) a aspecto semântico. Assinale a alternativa em que a afirmativa está incorreta.
-
“É preciso explorar um pouco a diferença” (linha 17): este período é composto por duas orações, uma principal e outra, sujeito na forma oracional.
-
“No entanto, o segredo da modernidade consistiu em uma mudança dessa relação.” (linhas de 21 a 22): esta oração tem a função textual de introduzir a noção de divergência da ideia anterior.
-
“Mas o que nos interessa aqui é outro ponto.” (linhas 34 e 35): o pronome “nos” indica que o autor se coloca na argumentação.
-
“Estas se beneficiam dos ganhos científicos no plano do fazer, mas ignoram-nos quase por completo no plano do agir.” (linha 53): o pronome “nos” indica que o autor se coloca na argumentação.
Outras questões do mesmo concurso: PC DF / Ag Pol (PC DF) / 2009